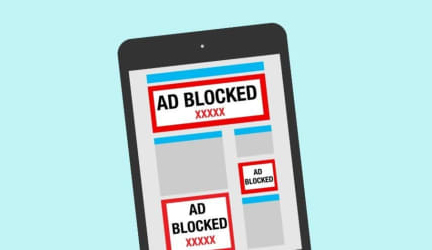Embora seja hoje em dia relativamente consensual encarar a difusão de conteúdos nas plataformas digitais como um processo sociotecnológico (isto é, como um processo social dos seus utilizadores dependente das características tecnológicas do medium), as concepções dominantes da difusão na Web continuam paradoxalmente subjugadas a duas metáforas eminentemente biológicas utilizadas não apenas pelas indústrias da publicidade, do marketing e dos media como por uma parte considerável da comunidade científica e dos utilizadores: a dos conteúdos mediáticos virais e dos memes.
Em meados da década de 90, Douglas Rushkoff definiu os “vírus mediáticos” como cavalos de Troia que introduzem mensagens de apelo ao consumo no quotidiano dos receptores iludindo o seu consentimento: uma vez “infectados” com esses vírus, os consumidores passam-nos pelas redes mediáticas através de um processo involuntário comparável ao do contágio. As referidas mensagens subliminares constituem memes, um termo originalmente cunhado por Richard Dawkins como uma versão cultural do gene biológico: a sua propagação seria autorreplicativa e epidemiológica, saltando da mente de um consumidor para a de outro através de um processo de imitação.

Cushing Memorial Library and Archives, Texas A&M
Esta aplicação dos princípios darwinistas à evolução cultural viria a dar origem ao filão dos estudos meméticos, que tem em Daniel Dennett uma das suas figuras de proa. À semelhança de Daniel Rushkoff, o filósofo norte-americano procura desenvolver as teorias de Richard Dawkins afirmando que os memes, à semelhança dos genes, são blocos de informação sujeitos às leis de selecção darwinistas e que a mente de um determinado indivíduo nada mais é do que um conjunto de heranças cognitivas e culturais de um determinado conjunto de memes que os indivíduos alojam e ajudam a replicar. Os estudos miméticos viriam a ser desenvolvidos por diversos autores, entre os quais se destacam Richard Brodie, que definiu três métodos distintos de infeção (ou programação) memética – repetição, dissonância cognitiva e cavalos de Troia; Susan Blackmore, que assinalou o facto de a Web ser o meio de difusão ideal para a gestação e difusão de memes; e Vito Campanelli que identificou três premissas para a sua teoria estética dos memes digitais: contágio, repetição e hereditariedade social.
Independentemente das virtudes ou lacunas dos estudos meméticos, o que me interessa para já é identificar esta assinalável produção científica como um dos fatores que terão contribuído para a entrada do adjectivo “viral” no léxico da maioria dos utilizadores das plataformas digitais. Nos últimos anos, os profissionais de marketing e os produtores de conteúdos mediáticos têm mesmo vindo a eleger esta concepção viral da difusão como a estrela polar que guia todo o seu labor na emergente paisagem mediática digital.
Jean Burgess, por exemplo, define o “marketing viral” como uma tentativa de explorar os efeitos da comunicação de boca-em-boca (word of mouth) e da comunicação na Internet no intuito de induzir o maior número de utilizadores a difundir voluntariamente marcas e mensagens de marketing. O que é particularmente significativo nesta definição do investigador australiano é o facto de o autor, ao explicitar o significado do termo “viral”, contradizer a própria metáfora biológica da infecção que está na origem da designação: ao afirmar que a distribuição operada pelos utilizadores é voluntária, Jean Burgess refuta as concepções de autores como Jeffrey Rapport que define os conteúdos virais como entidades autorreplicativas ou Susan Blackmore que defende a existência de um mundo de replicações tecnológicas que dispensem o ser humano. Ou seja: a utilização corrente e predominante do termo “viral” tende a esvaziar o seu sentido original, podendo-se afirmar que o mesmo é usado, de forma indiscriminada, para referir conteúdos mediáticos (sobretudo audiovisuais) que foram fruídos por um elevado número de utilizadores nas redes sociais, independentemente dos mecanismos que contribuíram para a sua difusão.
A actual contradição que mina o emprego do termo “viral” torna-se particularmente visível se analisarmos comparativamente as implicações da utilização, por parte de um tão vasto número de utilizadores, de expressões metafóricas como “conteúdos virais” e “vírus informáticos” (computer virus):

O quadro anterior enumera as premissas habitualmente associadas ao emprego dos termos “vírus informático” e “conteúdo viral”. Na origem das duas designações está uma metáfora biológica de infecção ou de contágio que faz com que ambas conceptualizem as suas mecânicas difusoras como autorreplicativas e a passividade dos seus hóspedes como involuntária. No entanto, torna-se também evidente que a precedente aplicação da metáfora biológica no caso dos “vírus informáticos” também terá motivado a utilização do termo “conteúdos virais”, isto é, a metáfora informática também pode ser considerada um factor para a utilização do segundo termo. Tal é particularmente visível não apenas no facto de Richard Brodie utilizar o termo “programação” para referir a infecção memética dos indivíduos, como na mutação morfológica que o termo sofreu: contrariamente aos estudos meméticos, os utilizadores utilizam uma flexão adjectival (“viral”), porque o substantivo já era utilizado para designar os “vírus informáticos” (não deixa, de resto, de ser igualmente significativo o facto de Jeffrey Rayport recorrer a esta mesma analogia no artigo em que foi pela primeira vez cunhado o termo “viral marketing”).
Reveladora é também a forma antagónica como as duas metáforas (biológica e informática) alteram as características semânticas dos hóspedes desta suposta “infecção”:
. no caso dos terminais (computadores, telemóveis, etc.), a metáfora biológica opera uma substituição do sema [-vivo] para o sema [+vivo], isto é, o terminal passa a ser conceptualizado como um organismo infectável;
. pelo contrário, no caso dos utilizadores, a metáfora informática opera uma substituição do sema [+vivo] para o sema [-vivo], isto é, os utilizadores passam a ser conceptualizados como terminais ou computadores programáveis.
Apesar de estas metáforas serem conceptualmente elegantes, a sua utilização científica torna-se problemática.
Apesar de estas metáforas serem conceptualmente elegantes, a sua utilização do ponto de vista científico torna-se, no mínimo, problemática. Em primeiro lugar, diversos estudos apontam para o facto de, para além de apenas uma porção residual dos vírus informáticos ser efectivamente nociva, a sua maioria ter sido criada para exprimir uma vasta ansiedade cultural perante as consequências económicas, políticas e sociais da penetração da novas tecnologias nas práticas quotidianas dos cidadãos enquanto utilizadores. Em segundo lugar, e mais importante ainda, as metáforas biológicas e informáticas subjacentes à utilização do termo “viral” para adjectivar conteúdos mediáticos que circulam pela Internet deslocam totalmente o potencial difusor do medium (a Web) e a força difusora dos utilizadores (vistos como meros pacientes, portadores, replicadores, mimos ou máquinas programáveis) para os próprios conteúdos mediáticos supostamente “virais”.
Os consumidores não são meros “pacientes” ou “transportadores” de ideias alheias.
Ironia das ironias, o que não raras vezes esta voluntariosa concepção viral da difusão de conteúdos pelas plataformas digitais camufla é precisamente um tipo de discurso ideológico que, originalmente, a metáfora pretendia desmascarar: a de que os utilizadores são alienáveis. O perigo das concepções em que se baseia o marketing viral é precisamente este: o de potencialmente criar a ilusão de que os profissionais competentes possuem mecanismos para propagar ou vender seja o que for aos utilizadores independentemente da sua vontade, o que como é óbvio é música para os ouvidos de potenciais clientes sedentos de disseminar a sua marca ou de escoar os seus produtos no mercado. No entanto, como não se cansa de repetir Henry Jenkins, os consumidores não são meros “pacientes” ou “transportadores” de ideias alheias, mas sim disseminadores de materiais aos quais reconhecem, individual ou socialmente, um determinado valor. A oferta pode ser imensa, mas os utilizadores filtram os conteúdos que têm pouca relevância para si ou para as diversas comunidades de que fazem parte e tendem a propagar os que consideram relevantes nos diversos contextos em que interagem.
No fundo, os estudos meméticos tendem a desvalorizar dois fatores essenciais da difusão dos conteúdos mediáticos: o poder de escolha (genuína nemesis do trabalho de uma autora como Susan Blackmore) dos utilizadores e o medium onde os materiais são filtrados e difundidos. Por um lado, os critérios relacionados com as escolhas dos utilizadores são complexos e intimamente ligados à série heterogénea de laços sociais que os unem nas suas diferentes comunidades, na medida em que, como afirma Nancy Baum, descortinar quando e como utilizar conteúdos mediáticos para comunicar com os nossos pares é uma parte integrante do constante desafio que constitui relacionarmos com o(s) outro(s). Por outro lado, a configuração egocêntrica de certas redes sociais (como o facebook) introduz uma assinalável complexidade na difusão, na medida em que a circulação de conteúdos mediáticos acaba por atravessar diferentes nichos e múltiplos espaços de afinidade.
Os critérios relacionados com as escolhas dos utilizadores são complexos.
Num interessante artigo publicado neste portal, Rosa Alice Branco rebate igualmente esta concepção memética quando afirma que, contra algumas evidências, o fenómeno da corrupção nas sociedades democráticas não é autorreplicativo: a corrupção é sempre uma escolha de alguns em benefício próprio, que potencialmente força os outros a serem negativamente afectados por ela. A mesma observação pode ser aplicada à problemática da difusão na Web: o livre arbítrio dos indivíduos (em que se incluem os utilizadores das plataformas digitais) é incompatível com uma concepção de conteúdos mediáticos “virais” passíveis de infectar, programar ou alienar a mente humana. Pelo contrário, acredito que existem sempre razões profundas e complexas que legitimam o agenciamento dos utilizadores na difusão de um determinado conteúdo pelas redes sociais que actualmente configuram a Web. Atrevo-me agora a apontar duas razões antagónicas que, novamente, contribuem sobretudo para assinalar uma complexidade incompatível com metáforas que, apesar da sua elegância conceptual, são inapelavelmente esquemáticas e redutoras.
Em primeiro lugar, devido à sua configuração sócio-tecnológica, a Web não apenas possui um potencial de difusão, como tem um papel não negligenciável no seu agenciamento nos utilizadores: não raras vezes os utilizadores difundem conteúdos mediáticos apenas porque o podem fazer sem sequer os ter previamente fruído. Ser agente de difusão não é apenas um meio mas um fim em si, na medida em que confere um estatuto sócio-ontológico ao utilizador que aciona as potencialidades difusoras da Web, sobretudo nos casos em que a sua fruição participativa assume contornos de curadoria digital. É caso para afirmar que, na Web social, in medium profero, ergo sum (difundo, logo existo).
Ser agente de difusão não é apenas um meio mas um fim em si, na medida em que confere um estatuto sócio-ontológico ao utilizador.
Em segundo lugar, a difusão é igualmente um dos meios privilegiados à disposição dos utilizadores da Web para exprimirem a sua individualidade perante os seus pares ou para comunicar algo que é relevante para as diferentes comunidades ou redes sociais a que pertencem (amigos no facebook, colegas no linkedin, restantes membros de uma comunidade com um fim específico, etc.) – no fundo, para fortalecer, apurar ou mesmo criar os valores e os laços sociais que os unem aos outros utilizadores e a partir dos quais engendram a sua fruição participativa: a partilha de conteúdos mediáticos constitui o ponto de partida para muitas afiliações sociais e não raras vezes articula ou confirma os valores partilhados por um determinado grupo.

Hoje em dia é relativamente fácil incrementar de forma artificiosa o número de visualizações de qualquer vídeo.
Termino com uma (derradeira) provocação. Um dos mais importantes indicadores da suposta “viralidade” utilizada pelas indústrias de marketing no caso específico dos conteúdos audiovisuais na Web é o número de visualizações em portais de partilha de vídeos como o YouTube. Pois bem, hoje em dia é relativamente fácil incrementar de forma artificiosa o número de visualizações de qualquer vídeo recorrendo a serviços como os prestados pela 500 Views. A fazer fé no tipping point defendido por um guru como Malcolm Gladwell, é caso para dizer que, de metáfora biológica, a “viralidade” tem muito pouco, na medida em que ela é também pode ser interpretada como um discurso ideológico que serve para encobrir as leis subterrâneas pelas quais se rege a economia de mercado. Se me derem 3100 dólares, também eu sou capaz de criar um meme com um milhão de visualizações no YouTube. E com uma vantagem: a vacina vem incluída no preço.